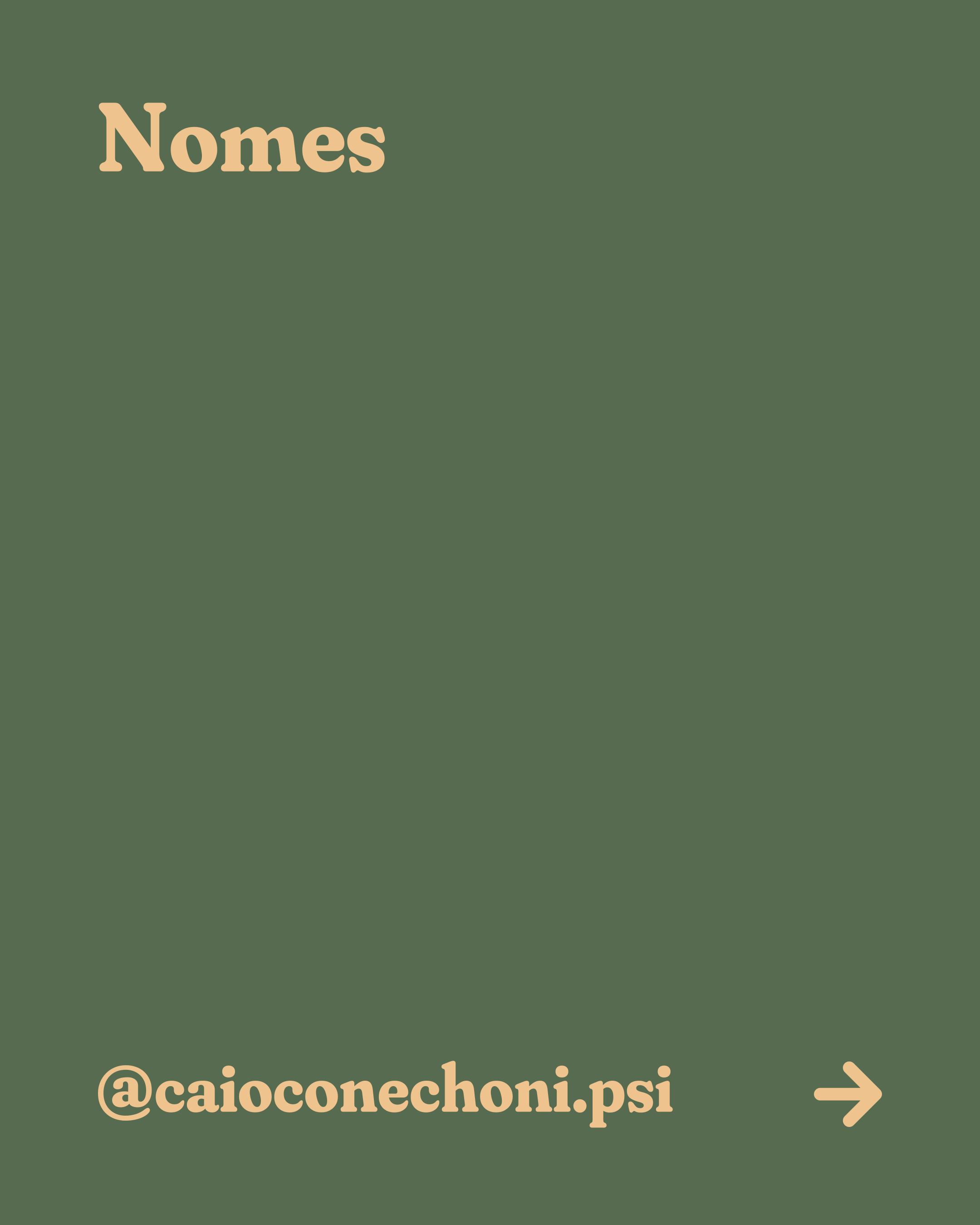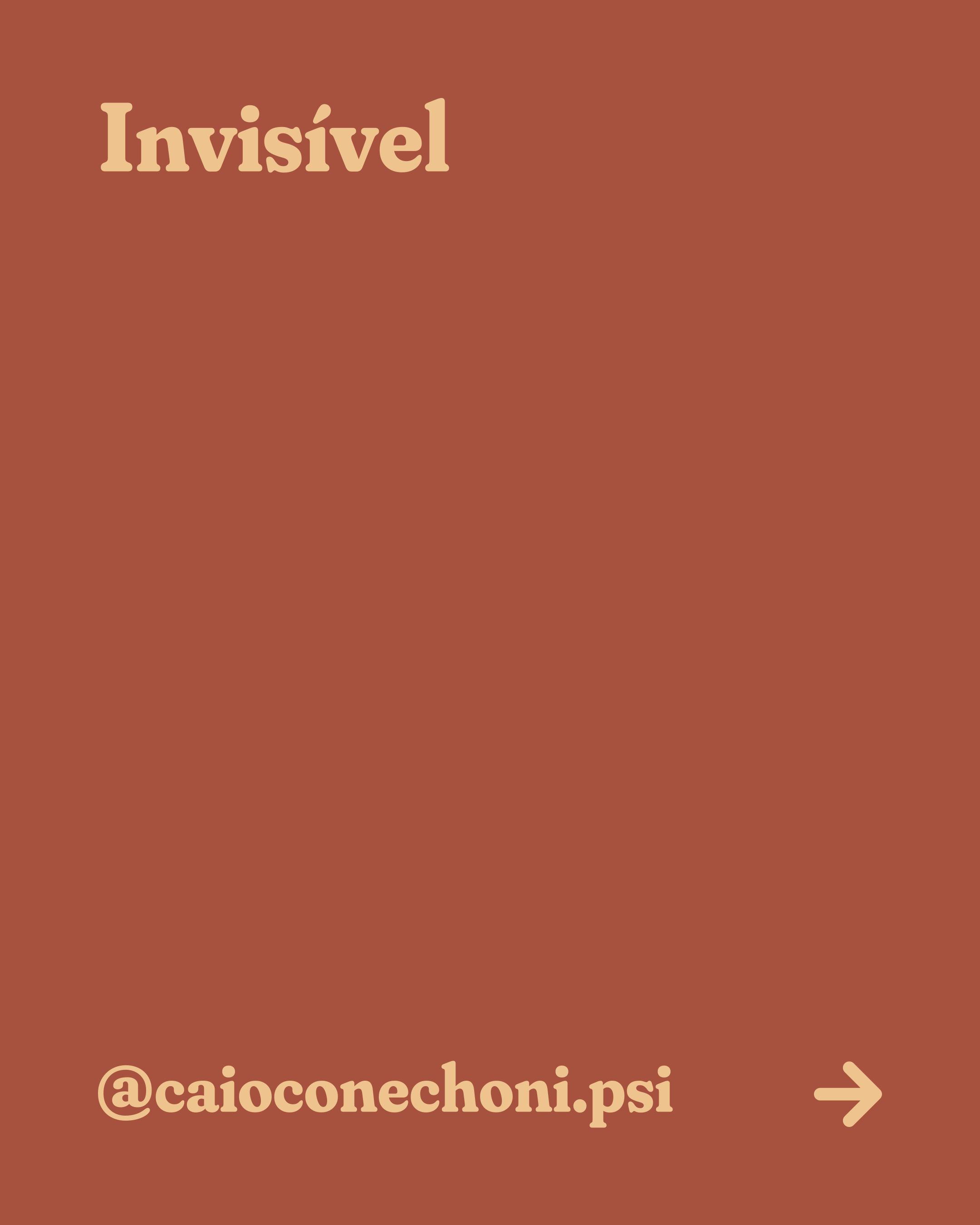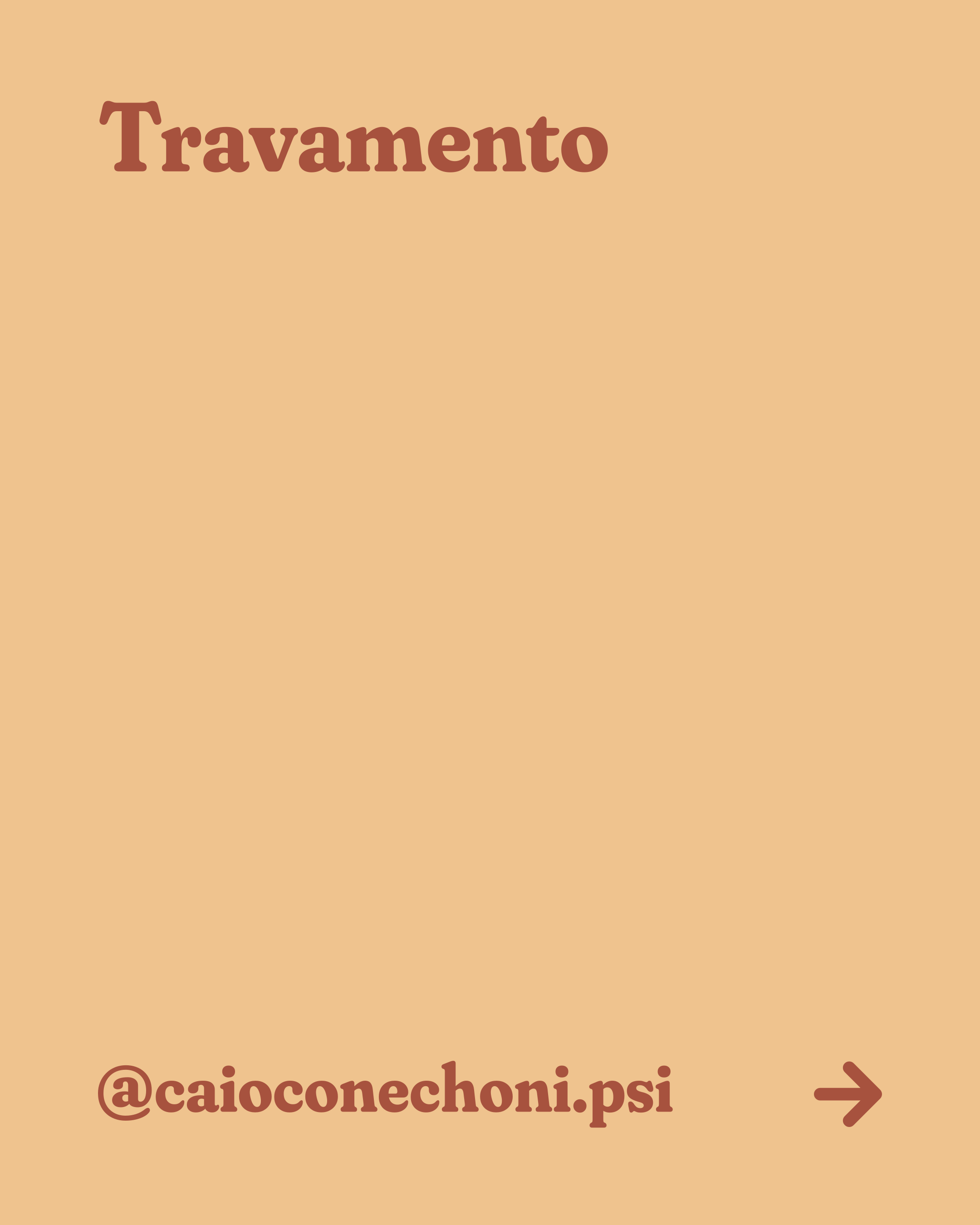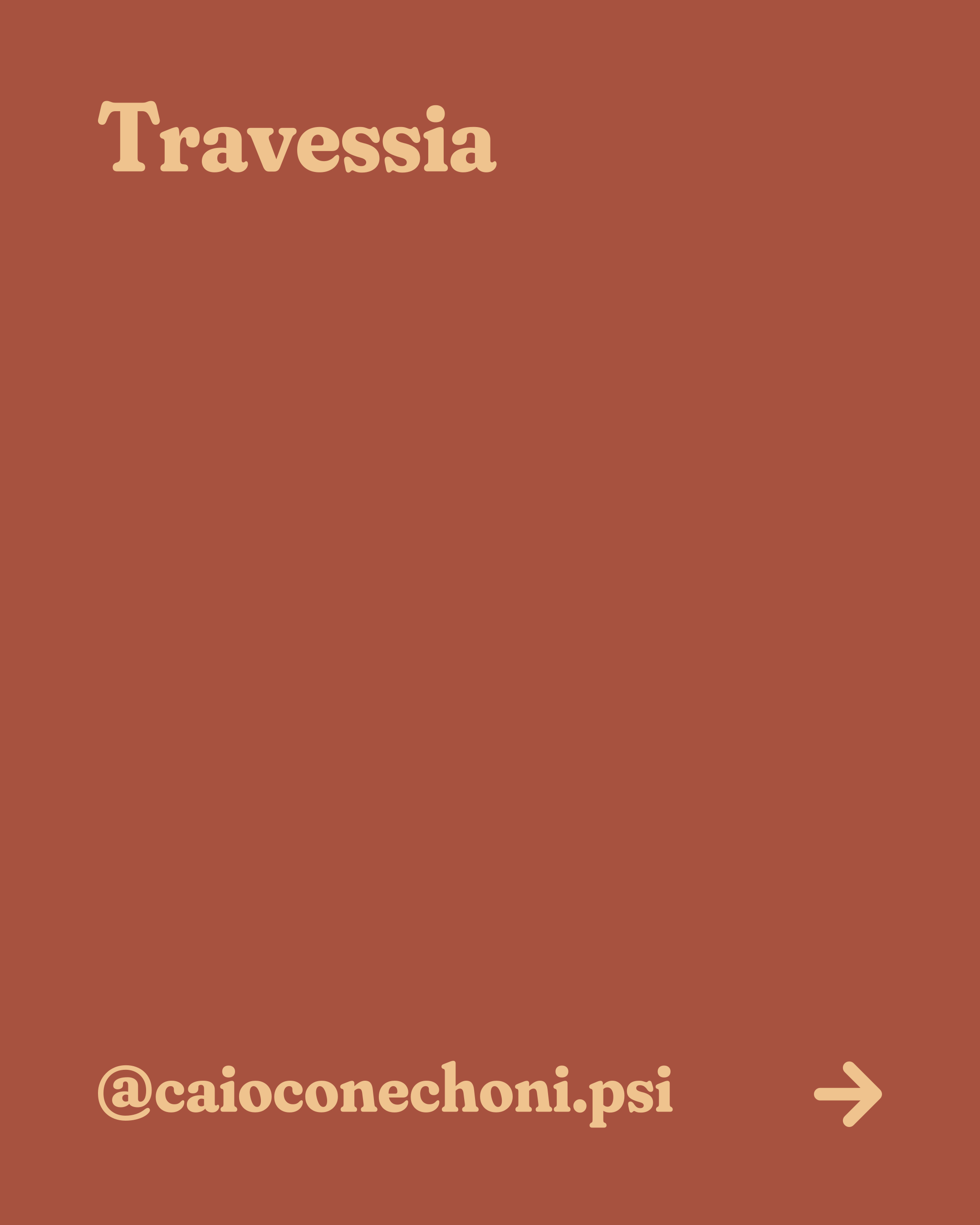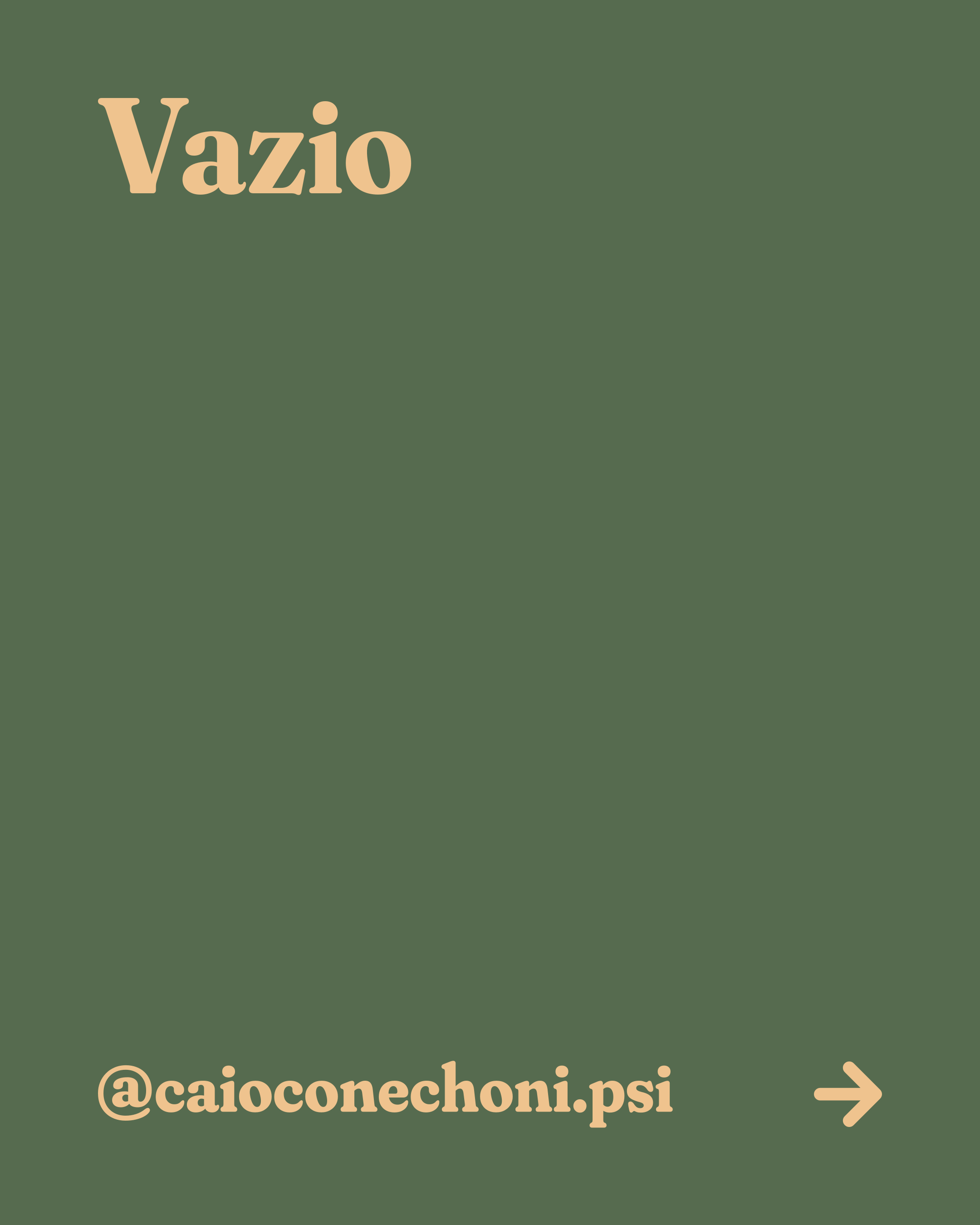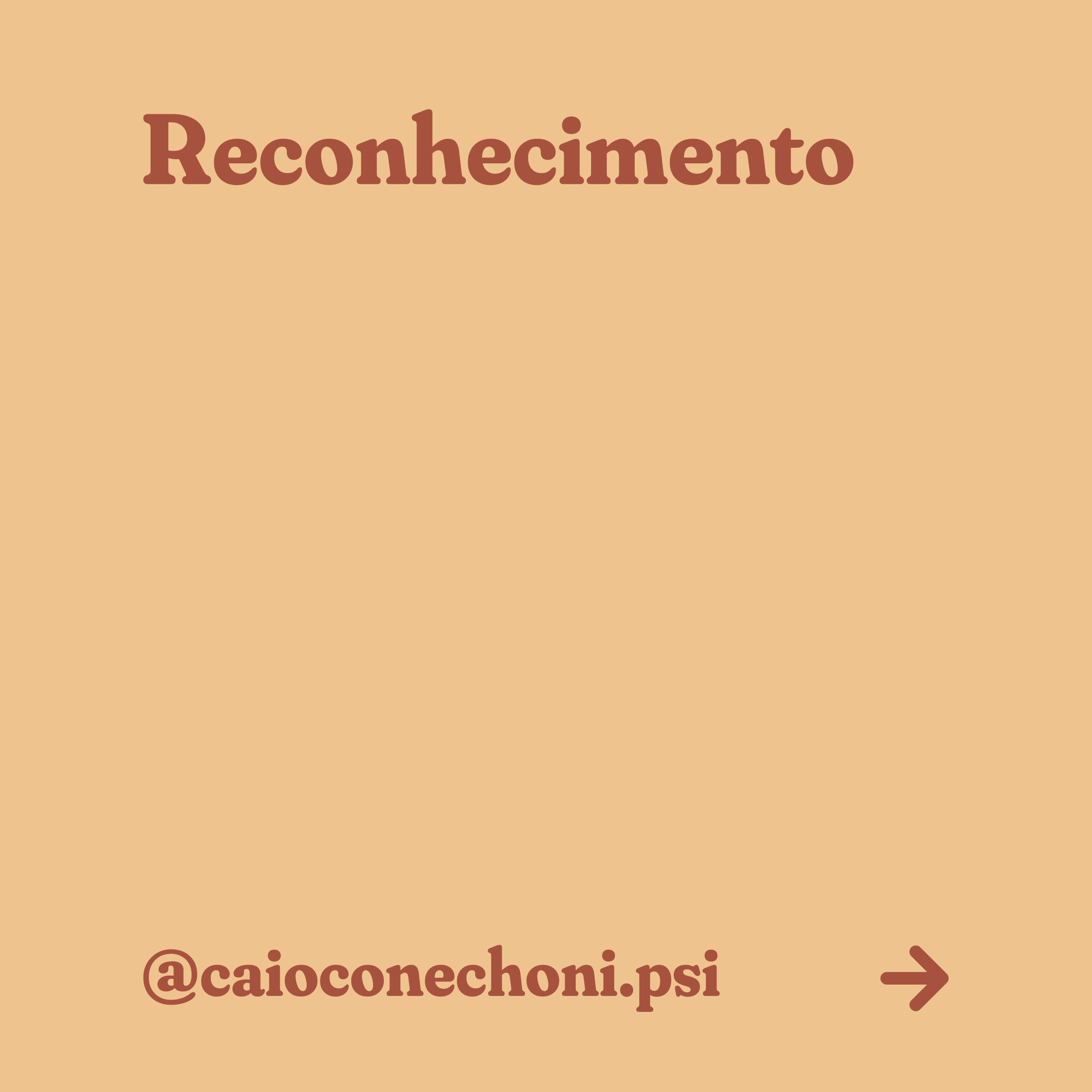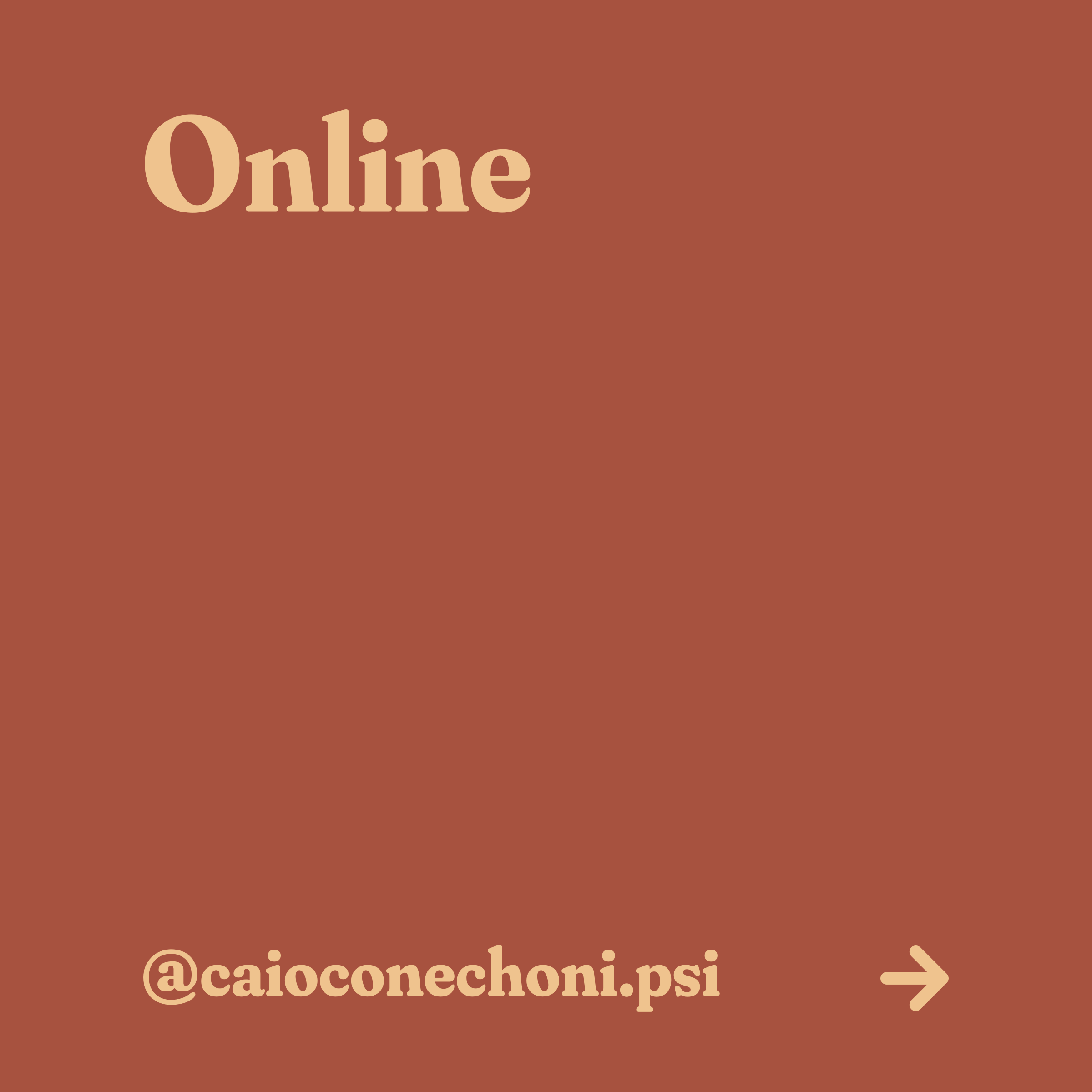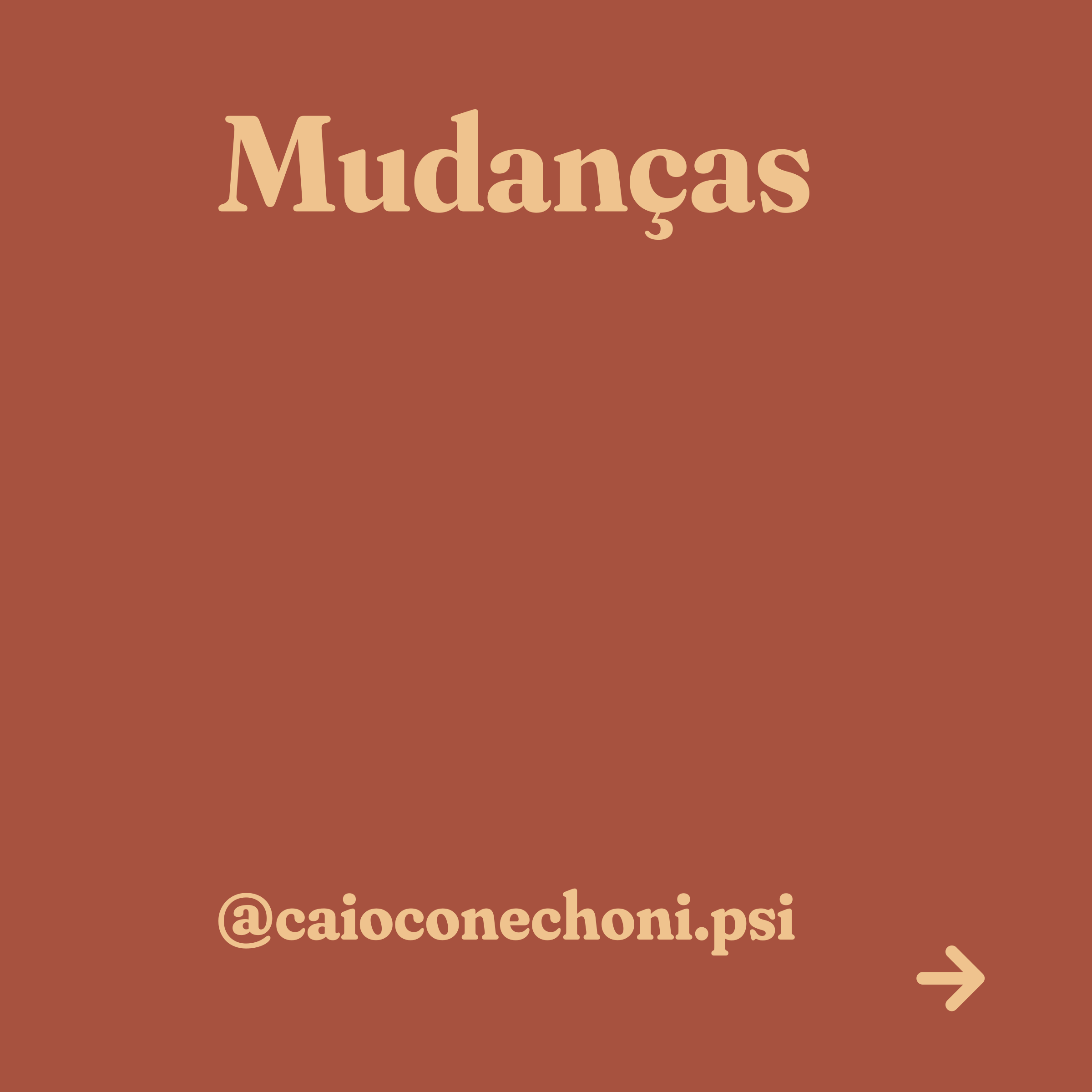Há uns anos atrás, me envolvi com jardinagem. Quem esteve por perto e acompanhou sabe o quanto isso tomou um espaço grande em minha vida. Boa parte do processo de aprender sobre jardins e sobre o cuidado de plantas envolveu aprender o nome das plantas, suas espécies, seus nomes populares, a que família pertenciam do ponto de vista botânico. Ao longo desse processo, percebi algo muito interessante: conforme eu aprendia o nome de algumas plantas, eu passava a vê-las por aí com uma frequência maior. Não é que elas estivessem mais presente nos ambientes do que antes, mas que, a partir do momento que eu passei a diferenciá-las por um nome próprio para cada uma, eu passei a enxergá-las e reconhecê-las com mais frequência.
É como se, ao nomear algo, eu passasse a distinguir isso do fundo caótico do mundo e da vida. Essa coisa passa a ter contorno, borda. Antes de nomear, tudo num pomar são árvores. Depois, você passa a distinguir uma jaboticabeira de uma pitangueira. Não é difícil perceber que isso se estende para tudo que nos rodeia. No entanto, embora a nomeação seja importante por dar esse aspecto de visibilidade pra coisa, ao possibilitar que a coisa seja manipulável e referenciada em um discurso, nomeações também implicam em consequências pré-determinadas e isso às vezes traz problemas.
Explico: suponha que você cave um buraco e construa ali um espaço azulejado, bem cuidado, e encha de água. Se você chamar esse espaço de “piscina”, pessoas provavelmente nadarão ali. Contudo, se você disser que aquilo é um reservatório de água, então nadar ali só será uma opção para aqueles que gostam de transgredir regras. Se você ainda disser que o espaço é um “lago”, talvez questionem onde estão os peixes e as plantas.
O que quero dizer é que nomear as coisas altera como vemos o mundo. Isso é exclusivo do ser humano. Para um pássaro, não importa o nome que você dá para seu espaço cheio de água, ele provavelmente beberá essa água e possivelmente se banhará nela. Cachorros não bebem a água do vaso sanitário? É porque a relação deles com aquilo não está mediada pela linguagem, então a água disponível ali não é diferente da água da vasilha limpa que você oferece a ele. Mas a nossa relação com o mundo está, sempre, mediada pela linguagem e pelos nomes que damos às coisas.
Eu disse que isso pode trazer problemas. Vamos a eles. Imagine uma menina, como muitas, que é ensinada a entender alguns comportamentos agressivos dos meninos como “carinho” ou “amor”. “Fulaninho puxou a alça do seu sutiã? Ah, é porque ele gosta de você”. Imagine, agora, um funcionário de indústria, trabalhando em escala 6×1, turnos cansativos, sem tempo para família, para amigos, para auto-cuidado, para lazer, que eventualmente deixa de ter interesse pela vida e, ao passar pelo médico, recebe o diagnóstico do seu sofrimento: “depressão”. Imagine, ainda, um garoto que, ao se sensibilizar e chorar ao presenciar uma cena triste, escuta de algum colega ou mesmo de um adulto “seu viado”.
Percebe onde estão os problemas? As consequências que cada uma dessas nomeações traz? Se nomear traz visibilidade e possibilidade de manejo, também encerra possibilidades de ação e limita o escopo de existência de algo. Pense em diagnósticos psiquiátricos, pense em nomeação de gêneros, pense em explicações para fenômenos atmosféricos extremos, pense em professores apontando “alunos-problemas”, pense nos efeitos de chamar uma região urbana de “cracolândia”. Pense no seu nome e sobrenome. É preciso muita atenção à maneira como as coisas são nomeadas, e que efeitos e consequências elas provocam.